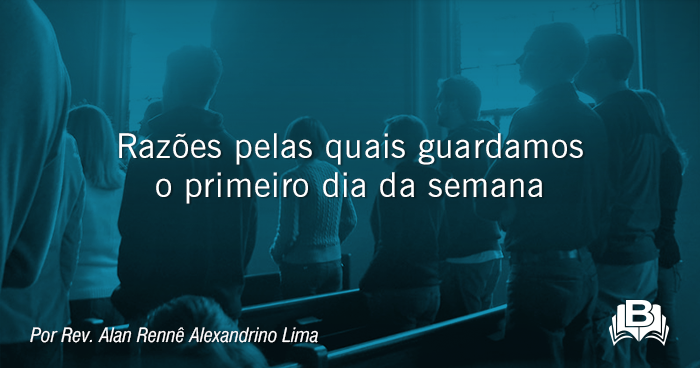A teologia é sem dúvida uma bênção do Senhor na vida do crente. É através do labor teológico que nós podemos conhecer melhor o Deus a quem servimos e adoramos. É por isso que soa muito estranho quando alguém afirma: “eu só quero Jesus, não doutrina.” Mas não é esse o ponto que pretendo tratar aqui. Que há cristãos que negligenciam o estudo teológico é fato, mas há também aqueles que gostam de teologia, porém não a fazem da maneira correta e pelos motivos corretos. É sobre estes que eu quero falar.
Se por um lado a igreja do Senhor sofre porque há muitos que deixam de lado o estudo doutrinário, há também, cada vez mais, cristãos que, apesar de se dedicarem a teologia, agem de uma maneira inadequada a respeito. Gostaria de citar alguns dos problemas a respeito destes últimos.
O primeiro problema é sobre aqueles que ao começarem a estudar um pouco de teologia, acham que podem opinar sobre todos os assuntos com propriedade. Eu vejo isso com muita frequência nas redes sociais, especialmente no Facebook. Alguém posta algo sobre pentecostalismo e o ex-pentecostal, que se tornou reformado depois de ler dois ou três artigos em sites e blogs, critica ferrenhamente o post sobre este movimento como se fosse conhecedor o suficiente dele (quando na verdade não é). Isso se aplica a outros tópicos teológicos também. Mas a questão é que essas pessoas têm sede por criticar ou opinar sobre qualquer coisa que diz respeito à teologia, quando elas mesmas não tem propriedade o bastante para falar.
As consequências disso são inúmeras. Um exemplo disso é uma divisão radical no corpo de Cristo por questões secundárias, ao ponto de muitos se comportarem de forma semelhante aos coríntios: “Eu sou de Paulo”, e outro “Eu sou de Apolo” (1 Coríntios 3.4). Tal divisão acarreta ainda outras consequências como até mesmo xingamentos!
Não é assim que as coisas devem funcionar. O cristão que tem começado a se dedicar a teologia deve sempre ter em mente que muitas coisas não são tão simples como ele pensa que é. E quando isso não ocorre, é uma clara evidência de imaturidade.
Outro problema associado a este é o motivo pelo qual eles estudam teologia. Há muitos cristãos que “teologam” simplesmente por amor a debates. Eles são ávidos por confrontar posições opostas às suas, a fim de derrubar os argumentos contrários e sair como vencedor. Eu não estou aqui dizendo que debates são de tudo ruins. Eu mesmo aprecio isso em alguns casos. Porém, o ponto é: eles não estão preocupados em se aquele debate vai render algum fruto de piedade ou amadurecimento ao seu irmão, ou até mesmo (por que não?) se o debate vai proporcionar troca de conhecimentos e uma interação saudável. Isso pode levar uma das partes a repensar aquilo que ele tem defendido e a amadurecer.
Além disso, e talvez mais importante ainda, é o fato destes cristãos não usarem a doutrina para o benefício da igreja. Eu mesmo já fui muito tentado a isso e tenho errado bastante. A teologia virou algo que não tem mais nenhuma relação com a igreja local. Estuda-se apenas para benefício próprio, não para instruir seus irmãos. Isso é egoísmo!
É aqui que o trabalho do pastor como teólogo-orientador entra. Ele precisa aconselhar as suas jovens ovelhas que, embora amem a teologia, precisam saber se comportar de forma adequada em relação a ela. Elas precisam entender que teologia não é algo banal, mas algo sério, pois lida com as coisas do Senhor. Além disso, precisam estar cientes do motivo pelo qual elas querem aprender mais da palavra de Deus. Eu penso que isso terá impacto significativo tanto na igreja local quando na igreja do Senhor como um todo.
***Se por um lado a igreja do Senhor sofre porque há muitos que deixam de lado o estudo doutrinário, há também, cada vez mais, cristãos que, apesar de se dedicarem a teologia, agem de uma maneira inadequada a respeito. Gostaria de citar alguns dos problemas a respeito destes últimos.
O primeiro problema é sobre aqueles que ao começarem a estudar um pouco de teologia, acham que podem opinar sobre todos os assuntos com propriedade. Eu vejo isso com muita frequência nas redes sociais, especialmente no Facebook. Alguém posta algo sobre pentecostalismo e o ex-pentecostal, que se tornou reformado depois de ler dois ou três artigos em sites e blogs, critica ferrenhamente o post sobre este movimento como se fosse conhecedor o suficiente dele (quando na verdade não é). Isso se aplica a outros tópicos teológicos também. Mas a questão é que essas pessoas têm sede por criticar ou opinar sobre qualquer coisa que diz respeito à teologia, quando elas mesmas não tem propriedade o bastante para falar.
As consequências disso são inúmeras. Um exemplo disso é uma divisão radical no corpo de Cristo por questões secundárias, ao ponto de muitos se comportarem de forma semelhante aos coríntios: “Eu sou de Paulo”, e outro “Eu sou de Apolo” (1 Coríntios 3.4). Tal divisão acarreta ainda outras consequências como até mesmo xingamentos!
Não é assim que as coisas devem funcionar. O cristão que tem começado a se dedicar a teologia deve sempre ter em mente que muitas coisas não são tão simples como ele pensa que é. E quando isso não ocorre, é uma clara evidência de imaturidade.
Outro problema associado a este é o motivo pelo qual eles estudam teologia. Há muitos cristãos que “teologam” simplesmente por amor a debates. Eles são ávidos por confrontar posições opostas às suas, a fim de derrubar os argumentos contrários e sair como vencedor. Eu não estou aqui dizendo que debates são de tudo ruins. Eu mesmo aprecio isso em alguns casos. Porém, o ponto é: eles não estão preocupados em se aquele debate vai render algum fruto de piedade ou amadurecimento ao seu irmão, ou até mesmo (por que não?) se o debate vai proporcionar troca de conhecimentos e uma interação saudável. Isso pode levar uma das partes a repensar aquilo que ele tem defendido e a amadurecer.
Além disso, e talvez mais importante ainda, é o fato destes cristãos não usarem a doutrina para o benefício da igreja. Eu mesmo já fui muito tentado a isso e tenho errado bastante. A teologia virou algo que não tem mais nenhuma relação com a igreja local. Estuda-se apenas para benefício próprio, não para instruir seus irmãos. Isso é egoísmo!
É aqui que o trabalho do pastor como teólogo-orientador entra. Ele precisa aconselhar as suas jovens ovelhas que, embora amem a teologia, precisam saber se comportar de forma adequada em relação a ela. Elas precisam entender que teologia não é algo banal, mas algo sério, pois lida com as coisas do Senhor. Além disso, precisam estar cientes do motivo pelo qual elas querem aprender mais da palavra de Deus. Eu penso que isso terá impacto significativo tanto na igreja local quando na igreja do Senhor como um todo.
Autor: Alison Aquino
Divulgação: Bereianos